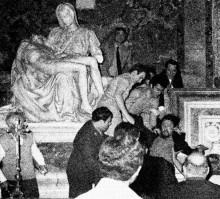
3 tentativas sobre arte e valor #1
A natureza geral do processo de trabalho não se altera, naturalmente, por executá-lo o trabalhador para o capitalista, em vez de para si mesmo. Mas também o modo específico de fazer botas ou de fiar não pode alterar-se de início pela intromissão do capitalista. Ele tem de tomar a força de trabalho [bem como os meios de produção], de início, como a encontra no mercado e, portanto, também seu trabalho da maneira como se originou em um período em que ainda não havia capitalistas. A transformação do próprio modo de produção mediante a subordinação do trabalho ao capital só pode ocorrer mais tarde […].[1]
Karl Marx, O capital, 1863
Um livro com figuras…
No cenário das artes plásticas brasileiras, o livro recém-publicado do arquiteto, pintor e professor Sérgio Ferro, Artes plásticas e trabalho livre (Ed. 34, 2015), se impõe como um evento intelectual de primeira ordem.[2] O esforço de sistematização empreendido pelo autor abarca ao menos dois aspectos fundamentais para um debate materialista da história da arte (ainda que sua pretensa indiferença no modo de se relacionar com esta disciplina se apresente um pouco nos termos da sprezzatura)[3]:
1) as questões em torno da especificidade do trabalho artístico desde o Renascimento (e portanto, em condições capitalistas ou protocapitalistas) em sua relação, negativa, com a lei do valor-trabalho;
2) um conjunto sintético e paradigmático de análises de obras de arte específicas (entre o século XV e XVII), tendo como linha mestra o fazer, e, portanto, as especificidades da operação prática, ou do trabalho artístico.
Pautado no fato de que “as artes plásticas têm a particularidade de incluir a produção material […o que] não é o caso das outras artes”, Ferro aponta, no momento de sua gênese histórica como um subsistema relativamente autônomo em relação ao então nascente sistema de produção capitalista, uma contradição desta particularidade das “artes plásticas” com seu projeto de ascensão ao status de arte liberal:
Em princípio, esse status pressupõe a ausência de trabalho físico, entendido como coisa de escravos, servos, artesãos: atividade indigna de homens do espírito. Num tempo em que o artesão que fabrica imagens ainda come na cozinha, a “cozinha” do ofício manual constitui um obstáculo aparentemente definitivo à promoção. Ela não pode ser evitada, caso contrário não há obra. Mas tem que ser escondida, senão o status pretendido jamais será atingido. A solução para o impasse tem que dar conta dessa antinomia. (p. 9)
O livro avança acompanhando os esforços empreendidos, na corda bamba, por artistas europeus entre finais do século XV e finais do século e XVII, na elaboração prática de uma atividade profissional pautada no trabalho manual que, ao contrário das demais atividades, escape à subordinação do trabalhador em geral ao capital – subordinação que se processa, por meio da espoliação e violência diretas, no período da assim chamada acumulação primitiva ou original.
O aspecto mais vivo do livro reside justamente na atenção que o autor dá à “cozinha” da pintura, e portanto às operações práticas de produção, em oposição ao que ele chama de “implantes culturais” ou “enxertos ideológicos” que corresponderiam à “superfície” das pinturas – as referências teológicas, filosóficas e científicas tão comumente associadas à arte renascentista (concepções metafísicas de espaço e luz, geometria, perspectiva, ótica, iconologia etc.). As vantagens desta opção pelo fazer se realizam no enfrentamento direto com as obras de arte, em análises perspicazes e inovadoras – convidando o leitor a entrar em quadros clássicos pela porta de serviço. Para ficar num exemplo paradigmático, tome-se a maneira como Ferro desenvolve a comparação entre a “marca do trabalho” nos ornamentos entalhados da gravura popular (herdeira direta da produção medieval) e o desenvolvimento de uma linguagem gráfica “purificada” ou “representacional” nos termos do virtuosismo, na série O apocalipse de gravuras do alemão Albrecht Dürer (1471-1528):
se [a “marca”, como vestígio do gesto produtivo,] fica exposta, é como na arte popular: injunção técnica feita ornamento. Isto é, como prolongamento lúdico, autoencantado do gesto técnico perfeitamente adaptado à sua finalidade. Vide as gravuras anônimas São Cristóvão de Manchester (1423) e Santa Doroteia de Nuremberg (1443), em que o esquematismo icônico, ainda medieval, fortemente determinado pela técnica da gravura em madeira, facilita a mostra da goiva quando grava os traços espessos. Cada linha associa assim, ao seu valor figurativo, a manifestação de sua gênese, com uma pitada de vaidade. […] Por isso, a prancha de madeira não é elidida como plano de trabalho físico que resiste ao artesão ou aos artesãos em colaboração. A operação não esconde seus meios. (p. 33-34)
Já com Dürer, marcando uma cisão entre o artesão e o artista, pode-se falar em grafia e virtuosismo, ou o desenvolvimento de um vocabulário gráfico de signos que “desrealiza” o plano:
Com ele, o fundo em que a goiva antes deixava suar marcas no papel branco vira luz […]. Olhem a nona prancha do Apocalipse, de Dürer, São João come o livro (1498). Tudo é traço, linha, hachura cruzada: linguagem do desenho. O trabalho sobre a madeira deve inclinar-se diante da concepção feita em outro material, a pena sobre o papel. [… As múltiplas] operações, do canivete e das goivas, […] zelam para simular, no seu encadeamento uma continuidade normal do desenho. O trabalho concreto retira-se para produzir a ficção de uma outra maneira de executar. (p. 34-35)
O dispositivo ou técnica de produção desta ficção Sérgio Ferro denomina “virtuosismo” – uma espécie de metatécnica que, por meio de um sobretrabalho, procura elidir as marcas da produção. Todavia, ainda convivem conflituosamente, no virtuosismo, a beleza ornamental de cada traço (agora descolado da resistência do material, transposto como linguagem gráfica) e configuração geral da forma (do desenho):
Sob o ângulo plástico, o horizonte não parece ter a profundidade requerida pela perspectiva, ele avança, comprime a cena. O que é acentuado pela heterotopia do anjo, do horizonte e do corpo próximo. A grafia de Dürer, cheia de arabescos, entrelaçamentos, volutas de mesma espessura, agita todo o espaço e o achata, revelando por todos os lados o traçado sobre o papel. O que havia sumido, o trabalho concreto da gravação, parece corroer com sinais trocados os extremos em que se refugiou sua perda. A grafia exaltada atrapalha a profundidade, a ilusão icônica desarranja-se. (p. 46-47)
…e diálogos
Ainda no que tange o interesse do livro, em resenha publicada na revista Piauí, o crítico literário Roberto Schwarz, companheiro de geração de Sérgio Ferro, aponta uma contradição produtiva entre as condições concretas de escrita do livro (no ambiente acadêmico do Velho Mundo, que impõe uma “familiaridade detida […] com obras europeias de difícil acesso”) e “certa herança marxista” – aquela do marxismo heterodoxo, antietapista (e portanto crítico do desenvolvimentismo), surgido no Brasil dos anos 1960. Desta fricção, segundo Schwarz, surge um livro “pesquisado e complexo, que condensa uma vida de reflexão sobre as artes plásticas e a sociedade capitalista” e que tem na experiência como jovem arquiteto e como militante político, na periferia do capitalismo durante a radicalização política dos anos 1960, um impulso crítico que se objetiva na concepção de “desalienação do trabalho” como critério principal do juízo. A conclusão, ainda que um pouco reticente, é de que, nesse sentido, “não seria um livro só europeu, e daria continuidade a um impulso gerado na América Latina”.[4]
Um dado importante é que Roberto Schwarz, ao apontar a gênese histórica dos esquemas teóricos de Ferro – dando ênfase a suas atividades de arquiteto, professor e militante político – omite justamente sua participação como artista no cenário brasileiro, num momento da história recente que pode ser considerado como síntese da produção artística brasileira moderna.[5] Para o leitor interessado nas ditas “artes plásticas” (o que, abertamente, não é o caso de Schwarz) nada seria mais criticamente relevante, quando o assunto é compreender o trabalho como fundamento da prática artística, do que as experiências artísticas de vanguarda que floresceram coletivamente na exposição Nova Objetividade Brasileira (MAM-RJ, 1967), da qual Ferro participou com suas obras.[6]
Em outra via, também no que diz respeito ao fundamento referido acima, a se crer na hipótese do geógrafo inglês David Harvey de que a “assim chamada acumulação primitiva” não se resume a mera etapa histórica, necessária para a ascensão e autonomização do sistema de produção capitalista, mas que configura uma dimensão estrutural, predatória, do próprio movimento cíclico da acumulação capitalista em geral – a que ele denomina “acumulação por espoliação” [7] –, em plena atividade nos tempos recentes da financeirização do capital, a pesquisa histórica de Sérgio Ferro não poderia ser mais atual. Atualidade ainda mais candente se levarmos em conta o diagnóstico histórico da “inédita [será?] centralidade da cultura na reprodução do sistema capitalista” e da recente articulação entre “artes plásticas” (ou “arte contemporânea” no novo jargão) e mundo dos negócios financeiros, descrito por Otília Arantes (seguindo Fredric Jameson), como “a virada cultural do sistema das artes”.[8]
O conto do pintor
A introdução estabelece a tese central do livro e uma série de premissas metodológicas gerais para seu desenvolvimento, entre as quais a enunciação de um desdobramento lógico, mais do que cronológico (histórico?) para as três “etapas” ou “soluções” que os primeiros artistas dão para o impasse relativo à dupla existência conflitiva do trabalho artístico como atividade manual e como atividade do espírito (p. 14):
1) O virtuosismo, que procura compensar o desprestígio da mão trabalhadora com a sofisticação do gesto produtivo. [Aqui aparece o exemplo de Dürer, descrito acima].
2) A denegação – que chamarei de “liso” –, que elimina seus vestígios. [O exemplo é a pintura “lisa” de Leonardo].
Estas duas têm um aparente defeito: exigem aplicação artesanal redobrada.
3) A terceira é digna do impasse: mostra o trabalho – mas um trabalho oposto, ponto a ponto, ao do artesão contemporâneo, sua negação determinada. Nesse sentido, as figuras mais destacadas são a sprezzatura e 4) o non finito (em italiano, literalmente “não terminado”, técnica de escultura desenvolvida no Renascimento que consiste em deixar uma parte do bloco do material sem esculpir). [o exemplo é Michelangelo] (p. 9-10)
Em prosa mais dramática:
No crepúsculo da Idade Média os costumes das corporações entram em crise. Os mestres põem-se a emperrar a sequência usual de promoções, desviando-a em seu proveito. Aprendizes e compagnons não tem mais acesso à maestria […]. Pouco a pouco, sem saída eles são rebaixados à dependência completa. […] Progressivamente, o ateliê adota uma forma organizacional semelhante à manufatura, já ensaiada em outros ramos da produção, como os de tecidos ou da construção. […] Alguns – os protoartistas – revoltam-se […,] no início, sem alterar o métier. Na disputa, utilizam todos os recursos: bajulam príncipes, capricham nas boas maneiras, cultivam-se, falam mal dos mestres [de ofício] etc. Mas, para justificar sua ousadia, precisam imperativamente demonstrar competência superior à dos mestres usurpadores. 1) Mostram-se virtuoses. Péssima tática de luta: combatem no termo do adversário. 2) A tática seguinte recorre à finta, escamotear o saber de ofício, sua denegação – e leva à maravilhosa miragem da “janela” albertiana. A vitória parece assegurada – mas seu custo é enorme, o trabalho, quase infinito. E, por mais que aprimore sua técnica, fica a sombra da mão laboriosa. A grande manobra, a de maiores consequências, consiste em deslocar a oposição. Virtuosismo e denegação pretendem demonstrar maior competência – mas ainda no âmbito da maestria do métier tradicional. 3) A sprezzatura e o non finito mudam de alvo. Atacam onde o inimigo não tem a possibilidade de se defender: valorizam o que o ateliê subordinado necessariamente perde, isto é, a fartura inventiva de um processo produtivo capaz de reagir a seu próprio andamento – o que é impossível no quadro rígido da exploração. (p. 11)
A tese, de fato contraintuitiva, cujo interesse polemizante é admirável, agora pode se apresentar:
Se pusermos entre parênteses o fato de as artes plásticas reagirem a uma manufaturazinha incipiente e a um microcapital, seu posicionamento como negação determinada do trabalho subordinado merece atenção. O que elas fazem pode ser considerado como modelo reduzido, esquemático, de uma resposta válida socialmente. Mais precisamente, como exemplo […] de trabalho não subordinado. Ora, o trabalho oposto ao subordinado é… trabalho “livre”. Salvo engano, as artes plásticas, desde a madrugada do capitalismo, fornecem o exemplo único de um outro trabalho possível, o inverso do subordinado ao capital. Literalmente, é um trabalho insubordinado.
Na prática, a narrativa inverte o juízo crítico absolutamente negativo que Sérgio Ferro dedica em outros escritos à arquitetura e à figura do arquiteto (que, em gerações recentes de arquitetos, fez escola).[9]
Ademais, tais “etapas” são descritas num esquema conceitual que é remetido à filosofia da história de Hegel, em que uma funciona como a “negação determinada” da outra. A despeito do fascínio que a qualidade e os impressionantes achados da leitura particular das obras de arte exercem, não é possível escapar à sensação de que o esquema “lógico” – escamoteando as circunscrições históricas concretas – que o autor propõe para comprovar sua tese (de que o trabalho artístico corresponde a uma figura de emancipação do trabalho em geral) possui um caráter prescritivo, e nesse sentido funciona bem demais. O esquema teórico parece funcionar porque é a hipóstase, sem mediações, das conclusões que o autor tira de sua competente fabulação fenomenológica do trabalho concreto a partir das obras – uma espécie de dialética formalista. Descolada de outras mediações – históricas, culturais, econômicas, políticas, de classe – mais amplas, e dos respectivos entraves e grilhões, a dimensão produtiva da obra é dotada, por um olhar moderno, de uma autonomia anacrônica, que dá livre curso à descrição, fantasmática, do artesão especialista como “negação determinada” do artesão comum.
Ao conceber o “fio vermelho” (seu interesse para a revolução, ou o germe do que Schwarz denomina em sua resenha “trabalho livre propriamente dito”) do fazer artístico sem enraizamento histórico – e portanto como ideia – atribui-se ao “especialista” em produção de imagens um protagonismo que é amplamente imaginário. A própria ideia cientificista do “laboratório” é duvidável, em vista de seu moto próprio (fetichista), pois a condição mesma do laboratório pressupõe a câmara higienizada, avessa à contingência da realidade, em que se atomizam as condições concretas. “Liberdade” – de gabinete.
Pincelando pontos cegos
É possível distinguir, daí, sem desconsiderar os ganhos e méritos apontados previamente, três pontos cegos estruturais – do qual se desdobram inúmeras imprecisões e contrassensos.
Vê-se que, em várias vias, no movimento de totalização encontra-se um problema estrutural de (falta de) enraizamento histórico.
Palavras-chave
“Artes plásticas” | As próprias atividades que constituem o fulcro do argumento de Ferro recebem uma denominação historicamente imprecisa – “artes plásticas”. Para Ferro “artes plásticas” são apenas “pintura e escultura” (p. 22) – reproduzindo a hierarquia clássica das técnicas “especiais” ou “artísticas”. O termo, que procura reunir as várias técnicas artísticas que se constituíram historicamente submetidas à posição hierarquicamente superior da pintura (e, em outro grau, da escultura), é utilizado apenas a partir do século XIX[10]– já como resultado da deshierarquização imposta pelas novas condições de produção da arte moderna. O termo de fato corrente no período renascentista era “arte del designo”, abarcando arquitetura, escultura, cerâmica, pintura, desenho e gravura. Provavelmente devido à presença da arquitetura esta designação tenha de ser elidida pelo teórico-pintor.
“Trabalho livre” | Em sua resenha, Schwarz procura atribuir a Ferro um duplo sentido intencional no uso do termo “trabalho livre”, sem aspas:
O título do livro […] contrapõe noções de ordem muito diversa, que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Entretanto, esse título nos leva ao centro das preocupações de Sérgio […]. Aqui, o trabalho livre deve ser entendido em duas acepções. Uma, digamos, libertária, que tem parte com a utopia, em quer o trabalho está sob o signo da liberdade e polemiza com a opressão social. Na outra acepção, filiada à crítica marxista, o adjetivo “livre” está em sentido sarcástico e paradoxal, sobretudo de privação e desconexão, no polo oposto à plenitude que a palavra “liberdade” parece prometer.
No texto de Ferro, não parece haver uma definição assim tão clara para o termo “trabalho livre”, uma vez que a parte “com a utopia” possui filiação não declarada com as concepções românticas (ou seja, não marxistas) dos britânicos John Ruskin (1819-1900) e William “Arts & Crafts” Morris (1834-1896):
Ora, o trabalho oposto ao subordinado [leia-se assalariado] é… trabalho “livre” [I]. […] As artes plásticas adquirem suas especificidades ao adotarem como fundamento o “trabalho livre” [II]. […] Mas “livre” [III] tem aspas: não somente porque é opositivo, mas porque, nesse sentido, é inteiramente dependente de seu oposto. É […] somente […] o que não é o trabalho que começa a ser subordinado (subordinação formal). […] Livre [IV] aqui não remete à liberdade abstrata, genérica. Significa que os artistas fazem e salientam o que o artesão parcelado pela manufatura não pode mais fazer, o que está perdendo, dentro de um ofício bem delimitado. (p. 11, 13)
Na primeira aparição [I], o adjetivo “livre” (não subordinado ou emancipado), entre aspas, aparece em oposição ao trabalho subordinado (aqui um modo genérico, alheio ao vocabulário da economia política, de definir qualquer tipo de trabalho historicamente existente nos marcos das sociedades europeias – trabalho escravo, trabalho servil ou trabalho assalariado). Na segunda aparição [II] o fundamento – positivo – das artes é o “trabalho livre”, tudo entre aspas – mas as aspas, como se explica na terceira aparição [III] se devem ao fato de que o adjetivo “livre” é um polo dialético do trabalho “subordinado” (assalariado?) e com ele forma uma unidade de contrários. Na quarta aparição, o termo livre [IV] aparece sem aspas, significando já completamente o oposto do trabalho “não livre” (aspas nossas) do trabalhador da manufatura – que, como se sabe, é a primeira figura do trabalhador assalariado.
Ora, Marx define de modo bem outro o sentido de “livre”, atribuindo sarcasticamente o adjetivo especificamente ao trabalho assalariado:
livre no duplo sentido de que ele dispõe, como pessoa livre, de sua força de trabalho como sua mercadoria, e de que ele, por outro lado, não tem outras mercadorias para vender, solto e solteiro, livre de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho.[11]
E ainda uma vez, na polarização, que define as condições fundamentais da produção capitalista, entre dois tipos opostos de possuidores de mercadoria, os “possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência” e os “possuidores da própria força de trabalho”:
Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles.[12]
Ainda que o termo “livre” (com ou sem aspas) de Sérgio Ferro esteja especificado em relação a um polo dialético, o termo, em Marx, aparece historicizado. Ferro toma a palavra pelo que ela poderia utopicamente significar, enquanto Marx utiliza o adjetivo “livre” sem aspas num sentido irônico em relação ao uso consagrado da expressão na economia política clássica – a não ser que o “trabalho livre” sem aspas esteja em oposição ao título de outro livro de Ferro, Arquitetura e trabalho livre (também sem aspas), o que acrescentaria ainda uma nova camada à confusão…
Arte clássica como modelo produtivo do artesanato
Nos termos como Marx descreve o trabalho “livre”, como trabalho assalariado, pode-se reconhecer certa homologia entre o processo de individuação do artista (sua aparição como um autor, sujeito uno e indivisível) e a apropriação da força de trabalho “livre”, individualmente, como produtor independente, ou como possuidor independente de uma mercadoria específica (a força de trabalho). Nesse sentido, o artista clássico apenas se adianta individualmente em relação ao processo geral – com vistas a não sofrer da espoliação dos meios de produção, a regra da acumulação primitiva. Por meio de um acordo ou contrato tácito, o modelo operativo do artista passa a encabeçar a produção social – com o privilégio duplo de vender mais caro o produto de seu trabalho (em vista da escassez ou raridade) e de garantir determinadas regalias –, sendo a arte força motriz do desenvolvimento técnico da atividade manufatureira.[13] Isso é resultado do fato de que o capital encontra os meios de produção dados, numa condição anterior à hegemonia do modo de produção capitalista.
Neste sentido, a dissociação que Ferro aponta, nas pinturas de Leonardo da Vinci (p. 61-62), entre a figura lisa (denegação do fazer) no primeiro plano do quadro e o non-finito do fundo (que carrega as marcas do trabalho manual), mantendo a integridade e a unidade do campo representacional, dá sinal (na contramão da leitura de Ferro) de que a pesquisa artística – como modo de conhecer fazendo – opera, como um modelo paradigmático, os avanços técnicos de segmentação do trabalho na manufatura, que também dissocia operações semiautônomas na produção de um único corpo de mercadoria. A força de trabalho é comprada pelo possuidor dos meios de produção (o capitalista), no campo da circulação, de modo atomizado (um trabalhador “livre” por vez), mas no processo de trabalho, no dispêndio ou uso da força de trabalho, o que se verifica é a cooperação ou a coletivização dos esforços de trabalho – a reunião do que fora previamente separado (ou atomizado) enquanto separado, na produção de objetos inteiros, passíveis de troca mercantil.
Ainda no período da acumulação primitiva, do ponto de vista da formação subjetiva pautada pela lógica do capital, há homologia entre a divisão do trabalho realizada na cisão de operações de um único indivíduo (sem possibilidades de hesitação entre uma operação e outra) e a divisão social do trabalho propriamente dita (na separação e atomização de um conjunto de indivíduos reunidos sob o mando de um capitalista). Trata-se, de fato, do modelo operativo do processo de produção artesanal durante a acumulação primitiva – para o qual as operações produtivas se realizam segundo o estatuto da mimese, em consonância com a mecânica “natural”, como interação metabólica entre sociedade e natureza (a dita “ordem da Criação”).
É apenas com o modo de produção industrial, e a substituição da pesquisa artística pela pesquisa científica como modelo produtivo[14] – rompendo com a consonância “natural” da mimese –, que se realiza a “transformação do próprio modo de produção mediante a subordinação do trabalho ao capital”[15], e nesse sentido, se configura a crise da arte, que adquire socialmente – no ciclo inaugurado pelas Luzes – dimensão crítica própria, inscrita na dinâmica da luta entre trabalho e capital.
Notas
[1] Karl MARX, O Capital: crítica da economia política, Livro Primeiro, Tomo 1, trad. Régis Barbosa e Flávio R. Kothe (São Paulo, Abril Cultural, 1984), p. 147. (“Cap. V – Processo de trabalho e processo de valorização”)
[2] Sérgio FERRO, Artes plásticas e trabalho livre: de Dürer a Velázquez (São Paulo, Ed. 34, 2015). A seguir, as páginas entre parênteses, sem outra indicação bibliográfica, se referem ao livro aqui resenhado.
[3] Uma das categorias principais utilizadas por Ferro para descrever as soluções encontradas pelos artistas renascentistas aos dilemas impostos pela então recente subordinação do trabalho ao capital. Consta na nota da edição, realizada pelo arquiteto e professor de história da arte Pedro Arantes: “Cunhado em 1528 […] o termo sprezzatura passou a denotar uma das virtudes essenciais do homem da corte. Significava a faculdade de conferir às tarefas mais árduas uma aparência de abandono, serenidade e naturalidade. Por meio de exercício e graça estudados, o cortesão dissimulava seus sentimentos, demonstrando desenvoltura e segurança, e assim faria também o artista” (p. 10).
[4] Roberto SCHWARZ, “Artes plásticas e trabalho livre – Sérgio Ferro e a pedra angular do marxismo”, in Piauí, 104 (São Paulo, Ed. Alvinegra, maio 2015), p. 54-55. Em anos recentes, esta é a terceira intervenção de Schwarz em relação à produção arquitetônica e teórica de Ferro, sendo as anteriores os posfácios do livro de Pedro ARANTES, Arquitetura Nova – Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões (São Paulo, Ed. 34, 2002) e da coletânea de ensaios do próprio Sérgio FERRO, Arquitetura e trabalho livre (São Paulo, Cosacnaify, 2006). Antes disso, havia publicado “O progresso antigamente”, in Que horas são? (São Paulo, Cia. das Letras, 1987).
[5] Ver Gustavo MOTTA, No fio da navalha – diagramas da arte brasileira, dissertação de mestrado, orient. Luiz Renato Martins (São Paulo, PPGAV-ECA-USP, 2011).
[6] Segundo o texto de Hélio Oiticica, publicado no catálogo da exposição de 1967, em acordo com os demais participantes, organizados coletivamente, a Nova Objetividade Brasileira seria “a formulação de um estado típico da arte brasileira de vanguarda atual […que,] sendo um estado, não é pois um movimento dogmático, esteticista (como p.ex. foi o Cubismo, e também outros ismos constituídos como uma unidade de pensamento), mas uma chegada, constituída de múltiplas tendências, onde a falta de unidade de pensamento é uma característica importante, sendo entretanto a unidade dessas tendências múltiplas agrupadas em tendências gerais [… cujas principais seriam]: 1 – vontade construtiva geral; 2 – tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro de cavalete; 3 – participação do espectador (corporal, tátil, visual, semântica, etc.); 4 – abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5 – tendência para proposições coletivas […]; 6 – ressurgimento e novas formulações do conceito de antiarte.” Hélio OITICICA, “Esquema geral da Nova Objetividade” (1967), republicado in Carlos BASUALTO (org.), Tropicália: uma revolução na cultura brasileira (São Paulo, Cosacnaify, 2007), p. 221.
[7] Ver David HARVEY, O novo imperialismo (São Paulo, Loyola, 2004).
[8] Otília ARANTES, “A ‘virada cultural’ do sistema das artes”, in Revista Margem Esquerda, n. 6 (São Paulo, Boitempo, 2005), p. 62-75.
[9] Ver especialmente “O canteiro e o desenho”, republicado in Sérgio FERRO, Arquitetura e trabalho livre, op. cit., p. 105-200. Ver também, especificamente sobre o papel de Brunelleschi neste processo, p. 334.
[10] Em língua francesa, a cristalização do termo “arts plastiques” (derivado do sentido lato de “plastique” como manipulação de formas e volumes) data de finais do século XVIII e possui um sentido mais amplo (abarcando também a poesia e a arquitetura) do que o utilizado atualmente. A acepção atual se consagra, aparentemente, entre as décadas 1940-1960, abarcando a antiga categoria da “beaux arts”. Cf. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, online: <http://www.cnrtl.fr/definition/plastique> . Para uma historicização das imprecisões e aparições fugidias do termo em suas variantes inglesas, alemãs e francesas, ver Dominique CHÂTEAU, « Plastique, arts plastiques, bildenden Künste », in Barbara CASSIN (dir.) Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles, (Seuil, Dictionnaires le Robert, 2004), online: <http://robert.bvdep.com/public/vep/Pages_HTML/$ART2.HTM>
[11] Karl MARX, O Capital: crítica da economia política, Livro Primeiro, Tomo 1, trad. Régis Barbosa e Flávio R. Kothe (São Paulo, Abril Cultural, 1984), p. 136.
[12] Karl MARX, O Capital, Livro Primeiro, Tomo 2, trad. Régis Barbosa e Flávio R. Kothe (São Paulo, Abril Cultural, 1984), p. 262.
[13] Ver Giulio Carlo ARGAN, História da arte italiana – vol. 2 De Giotto a Leonardo, trad. Vilma de Katinszky (São Paulo, Cosacnaify, 2003), p. 129-30.
[14] Ver Giulio Carlo ARGAN, Arte e crítica de arte, trad. Helena Gubernatis (Lisboa, Editorial Estampa, 1995), p. 91-2.
[15] Karl MARX, O capital, livro 1, tomo 1, op. cit., p. 174.
Publicado em: Dazibao 3